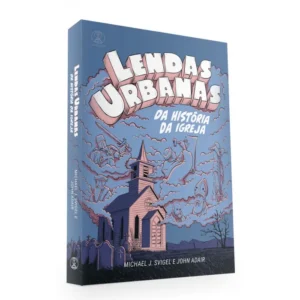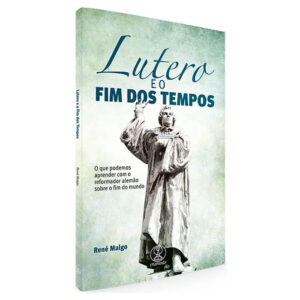O que são exatamente os “livros apócrifos”? Devemos entender eles como parte da Escritura inspirada?
A verdadeira história dos apócrifos – ou livros “deuterocanônicos” – é mais complicada do que apenas dizer “os católicos romanos os adicionaram à Bíblia no século XVI” ou “os protestantes os removeram da Bíblia no século XVI”. Pelo contrário, a relação da igreja com os apócrifos tem sido inconstante, com vários líderes eclesiásticos ao longo da história, (1) aceitando-os completamente como Escritura inspirada; (2) valorizando-os como escritos edificantes, mas não inspirados; ou (3) deixando-os de lado como fontes secundárias de interesse histórico ou espiritual. No século XVI, a Igreja Católica Romana decretou oficialmente que os apócrifos eram Escritura inspirada (categoria 1), enquanto os protestantes tendiam a considerá-los como categoria 2 ou 3. Assim, o que uma vez foi uma gama de opiniões variadas sobre o status e autoridade dos apócrifos ao longo da história da igreja, tornou-se fixo e inflexível nos dogmas oficiais dos católicos romanos e igrejas protestantes depois do século XVI.
Resumindo a história sobre o cânon do Antigo Testamento
A primeira coisa a se perceber é que os livros conhecidos como “apócrifos” são adições aos escritos do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. Todas as tradições históricas do cristianismo desde o século IV concordaram no conteúdo do cânon do Novo Testamento. Em segundo lugar, tanto o cânon do Antigo Testamento quanto o do Novo jamais foram oficialmente decretados por um concílio ecumênico – isto é, um concílio mundial considerado como imperativo por todas as igrejas. Apenas sínodos locais (concílios regionais com autoridade localizada) produziram listas descritivas dos livros em seus Antigo e Novo Testamentos, às vezes incluindo vários escritos apócrifos. Em terceiro lugar, os reformadores protestantes nunca consideraram os apócrifos como completamente inúteis; antes, eles os consideravam como escritos meramente não inspirados, com origem na comunidade judaica. Eles fornecem informações históricas úteis e contêm histórias inspiradoras. Logo, eles podem e devem ser lidos, mas não deveriam ser interpretados e pregados na igreja como Escritura inspirada e inerrante.
Roger Beckwith resume de forma sucinta as posições divergentes dos protestantes e católicos romanos na esteira da Reforma:
Os reformadores seguiram o exemplo de Jerônimo, e traçavam uma distinção clara entre os apócrifos das Bíblias grega e latina (que alguns deles mantiveram em uso apenas como uma leitura edificante) e os livros da Bíblia hebraica (que todos concordavam serem os únicos inspirados e imperativos). O Concílio de Trento, por outro lado, promulgou em 1546 uma lista de livros inspirados da Bíblia hebraica e dos apócrifos, e anatematizou aqueles que não os aceitassem. Os reformadores foram capazes de dar uma resposta igualmente ousada ao desafio de Trento, ecoando a afirmação de Agostinho de que o próprio Jesus endossou o cânon judaico, e apontando que este era o cânon da Bíblia hebraica, que não incluía os apócrifos.[1]
Essa breve citação de Beckwith sinaliza uma história rica e interessante por trás das visões divergentes: Jerônimo, Bíblias grega e latina, Bíblia hebraica e Agostinho. Claramente, então, precisamos cavar mais um pouco para descobrir as razões históricas pelas quais os protestantes relegaram os apócrifos a uma estante diferente, separada dos escritos “inspirados e imperativos”.
Lendas Urbanas da História da Igreja
por Michael J. Svigel e John Adair
Uma obra que corrige muitas lendas urbanas que temos da história da igreja, desde a igreja primitiva até os tempos modernos.
Os apócrifos no período patrístico
No período patrístico (c. 100-500), como observa J. N. D. Kelly, o Antigo Testamento cristão “sempre incluiu, embora com diferentes graus de reconhecimento, os chamados apócrifos, ou livros deuterocanônicos”.[2] À primeira vista isso parece confirmar a alegação de que os protestantes despejaram os apócrifos de sua casa confortável no cânon. No entanto, Kelly explica que o motivo pelo qual os cristãos incluíram esses livros foi porque, depois do primeiro século, os cristãos em todo o mundo eram, em sua maioria, gentios de fala grega que não conheciam o hebraico e, por isso, usavam como suas Escrituras do Antigo Testamento a tradução grega conhecida como Septuaginta. A tradução da Septuaginta incluía não apenas os livros tidos como inspirados pelos judeus, mas também livros que os judeus consideravam “religiosamente edificantes”, embora não inspirados.[3] Esses são os que hoje chamamos de apócrifos.
A tradução da Septuaginta incluía não apenas os livros tidos como inspirados pelos judeus, mas também livros que os judeus consideravam “religiosamente edificantes”, embora não inspirados.
Logo, quando os cristãos gentios receberam os escritos religiosos hebraicos na única forma que podiam ler – a tradução grega –, também adquiriram aqueles textos que os judeus teriam considerado como fontes secundárias. Contudo, alguns pais da igreja nesse período estavam bem-informados quanto à história da tradução da Septuaginta e sua relação com o Antigo Testamento hebraico. Por volta do ano 170, o bispo Melitão de Sardes (c. 110-180) escreveu a um companheiro cristão, Onésimo, a respeito do número e ordem dos livros veterotestamentários. Ele relatou que tinha viajado para Leste “e chegou a um lugar onde essas coisas eram pregadas e praticadas” e lá ele “aprendeu corretamente os livros do Antigo Testamento”.[4] O cânon relatado por Melitão corresponde ao Antigo Testamento protestante em seu conteúdo, com uma exceção – ele não tem o livro de Ester.[5] O bem pesquisado cânon de Melitão não incluía os apócrifos.
Outro exemplo da visão patrística dos apócrifos é encontrado nas Aulas Catequéticas de Cirilo de Jerusalém (c. 313-386). Sua lista dos livros do Antigo Testamento corresponde à dos protestantes, com a exceção da exclusão de Ester e a inclusão do apócrifo Baruque, que é incluído como parte de Jeremias, junto com Lamentações. O resto dos apócrifos não é incluído.[6] Essas perspectivas representativas de Melitão e Cirilo não são relatos minoritários entre os pais da igreja oriental. De forma similar, a visão entre pais proeminentes como Atanásio de Alexandria (290-374) e Gregório de Nazianzo (330-390), “era de que os livros deuterocanônicos deveriam ser relegados a uma posição subordinada, fora do cânon propriamente dito”.[7]
Parece, no entanto, que quanto mais longe as igrejas estivessem da terra santa e do cânon original preservado pelos judeus, mais provável era que os líderes da igreja adotassem os apócrifos de forma menos crítica. As igrejas ocidentais, que eventualmente se juntaram naquilo que chamamos de Igreja Católica Romana sob o papado, tendiam a considerar os apócrifos como Escritura canônica. Todavia, Jerônimo (c. 347-420), que foi o responsável pela tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata, gastou um tempo considerável na terra santa para aprender hebraico, a serviço de seus esforços de tradução. Consequentemente, ele chegou às mesmas conclusões de muitos pais orientais, de que “os livros que não estão no cânon hebraico devem ser designados apócrifos”.[8]

Os apócrifos no período medieval
Contemporâneo de Jerônimo, o grande Agostinho de Hipona (354-430) discordou de seu colega. Ele afirmou as origens miraculosas da tradução grega da Septuaginta e aceitou os apócrifos incluídos naquela coleção. F. F. Bruce observa: “A decisão de Agostinho forneceu um precedente poderoso para a igreja ocidental, a partir de sua época até a Reforma e além”.[9] Ao seguir Agostinho, a Igreja Católica Romana muitas vezes desviou-se involuntariamente do cânon judaico original. Muitos católicos romanos são aparentemente ignorantes dessa hesitação de muitos pais primitivos a respeito dos apócrifos.
Assim, ao longo do período medieval, muitos na Igreja Católica Romana consideravam os apócrifos como Escritura imperativa, como o fizeram, com menos dogmatismo, as Igrejas Ortodoxas Orientais (embora o Leste e o Oeste diferissem sobre quais livros adicionais deveriam ser incluídos). Essa aceitação geral cresceu sem o apoio de um concílio ecumênico e sem testemunho anterior, difundido e consistente dos pais da igreja primitiva. Além disso, Westcott observa que “uma sucessão contínua de pais mais eruditos no Oeste manteve a autoridade distinta do cânon hebraico [sem os apócrifos] até o período da Reforma”.[10] Aqueles que rejeitavam os apócrifos incluíam o papa Gregório, o Grande (540-604), o Venerável Beda (673-735), Hugo de São Vitor (1096-1141), Guilherme de Ockham (1288-1348), o cardeal Tomás Caetano (1469-1534) e vários outros que “repetiam com aprovação a decisão de Jerônimo, e traçavam uma linha clara entre os livros canônicos e os apócrifos”.[11]
Os apócrifos na Reforma e na Contrarreforma
A questão do cânon veterotestamentário veio à tona durante a Reforma. Como o assunto não estava completamente resolvido em qualquer sentido universal e obrigatório, vários líderes e estudiosos da igreja tinham, até aquele ponto, se posicionado ou com Agostinho, aceitando os escritos apócrifos, ou com Jerônimo, relegando-os a um status secundário. Martinho Lutero (1483-1546), juntamente com a maioria dos reformadores, tomou o partido de Jerônimo por razões históricas e teológicas,[12] embora a tradução alemã da Bíblia por Lutero, bem como várias outras protestantes, incluísse os livros em uma categoria separada, claramente intitulada “apócrifos”.[13]
Em resposta direta às reformas teológicas e práticas feitas pelos protestantes, a “Contrarreforma” da Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento (1545-1563), estabeleceu os apócrifos como parte do cânon do Antigo Testamento. O concílio, de fato, decretou a tradução em latim como a fonte de última instância em questões de fidelidade escriturística – descontando o apelo aos textos hebraicos e gregos originais. Não é surpreendente que Trento tenha ficado do lado de Agostinho ao invés de Jerônimo na questão dos apócrifos. Westcott observa: “Esse decreto apressado e peremptório” foi, “em sua forma, diferente de qualquer catálogo publicado anteriormente”.[14]
O decreto, de oito de abril de 1546, afirmou: “Seguindo, então, os exemplos dos pais ortodoxos, ele recebe e venera com um sentimento de piedade e reverência todos os livros tanto do Antigo quanto do Novo Testamentos”.[15] Logo, “para que ninguém tenha dúvida sobre quais livros são recebidos por este conselho”, o decreto lista os livros do Antigo e Novo Testamentos, incluindo Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque e 1 e 2Macabeus. Ele conclui: “Se alguém não aceitar os livros citados como sagrados e canônicos em sua totalidade e com todas as suas partes, da forma como já é costume ler na igreja católica e na maneira como estão contidos na antiga edição da Vulgata latina, e conscientemente e deliberadamente rejeitar as tradições mencionadas, que ele seja anátema”. É de se pensar se homens como Atanásio, Jerônimo, Gregório, o Grande e o Venerável Beda – que não recebiam os apócrifos como “sagrados e canônicos” – teriam sido anatematizados se tivessem vivido durante o Concílio de Trento.
Conclusão
À luz da verdadeira história dos apócrifos, seria um exagero grosseiro dizer que os reformadores os removeram da Bíblia enquanto a Igreja Católica Romana manteve as Escrituras originais que foram transmitidas desde o início. O papel dos apócrifos na família da Escritura canônica sempre foi o de parentes distantes, na melhor das hipóteses, e convidados indesejados, na pior delas. Apesar de alguns os terem chamado de “irmãos e irmãs”, os apócrifos não eram, de jeito nenhum, membros irrefutáveis da família dos escritos inspirados. A maioria dos reformadores esclareceu esse fato ao colocá-los, por assim dizer, na garagem, ao invés de tratá-los como irmãos iguais dos livros da Bíblia universalmente reconhecidos.
Embora a maior parte dos apócrifos contenha insights úteis, em alguns pontos eles podem ser usados para defender doutrinas que não encontram nenhum fundamento na Escritura canônica.
Em resposta, o Concílio de Trento da Igreja Católica Romana, em 1546, reforçou sua tênue afirmação ao adotar os convidados da casa e inseri-los na família da Escritura canonizada. Esse ato foi historicamente revolucionário, e desviou-se da recepção amena que os apócrifos tinham desfrutado na igreja primitiva. Assim, em resposta a esse retorno, os elementos “puritanos” mais rigorosos – e, eventualmente, os evangélicos protestantes na era moderna – expulsaram os apócrifos até mesmo da categoria de “não canônicos, mas inspiracionais” ou escritos “úteis”. Essa abordagem extremamente negativa dos apócrifos, em si, é um afastamento radical da recepção geralmente positiva que eles recebiam mesmo entre aqueles que não os aceitavam como Sagrada Escritura.
Aplicação
Embora a maior parte dos apócrifos contenha insights úteis sobre eventos históricos, ou poesia inspiracional inofensiva, ou histórias de fé e piedade ousadas, em alguns pontos eles podem ser usados para defender doutrinas que não encontram nenhum fundamento na Escritura canônica. Por exemplo: os teólogos católicos romanos têm defendido as doutrinas do purgatório e das orações pelos mortos a partir de 2Macabeus 12.46, onde diz: “Era esse um bom e religioso pensamento. Eis por que ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas”.[16] É claro que a teologia do purgatório inteira não poderia ser construída a partir desse único versículo, mas ele certamente ajudou.
Como a Sagrada Escritura funciona como autoridade final em todas as questões de fé e prática, é vital que nenhum “aspirante a Bíblia” seja incorporado no cânon. É por isso que os protestantes precisam entender não apenas o conteúdo propriamente dito do cânon do Antigo Testamento, mas também os motivos pelos quais os livros apócrifos são considerados fontes secundárias – bons para a leitura, mas não confiáveis para fundamentar a fé e a prática.
Notas
- Roger T. Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church and Its Background in Early Judaism (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2008), p. 2.
- J. N. D. Kelly, Early Christian Doctrines, 5 ed. rev. (Nova York: HarperOne, 1978), p. 53.
- Ibid., p. 53.
- Essas palavras de Melitão de Sardes chegam a nós por meio de citações de Eusébio, Church History4.26.14 (NPNF 2.1.206).
- Veja F. F. Bruce, The Canon of Scripture (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), p. 70-71.
- Cirilo de Jerusalém, Catechetical Lectures 4.35-36.
- Kelly, Early Christian Doctrines, p. 54-55.
- Carol A. Newsom, “Introduction to the Apocrypha/Deuterocanonical Books”, The New Oxford Annotated Apocrypha: New Revised Standard Version, 5 ed., ed. Michael D. Coogan et. al. (Oxford: Oxford University Press, 2018), p. 5.
- Bruce, Canon of Scripture, p. 97.
- Brooke Foss Westcott, “Canon of Scripture, The”, Dr. William Smith’s Dictionary of the Bible, vol. 1, rev. e ed. H. B. Hackett e Ezra Abbot (Nova York: Hurd and Houghton, 1877), p. 363.
- Ibid.
- Euan Cameron, The European Reformation, 2 ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), p. 165.
- Bruce, Canon of Scripture, p. 102-104.
- Westcott, Dictionary of the Bible, p. 363.
- H. J. Schroeder, The Canons and Decrees of the Council of Trent (Rockford, IL: Tan Books and Publishers, 1978).
- Citação extraída da Bíblia Ave Maria. Disponível em: https://www.bibliacatolica. com.br/biblia-ave-maria/ii-macabeus/12/. Acesso em: 6 mai. 2021.
Este artigo foi adaptado de Lendas Urbanas da História da Igreja, por Michael J. Svigel e John Adair.
Autores
-

Michael J. Svigel (Th.M., Ph.D., Dallas Theological Seminary) é professor de teologia sistemática e teologia histórica no Dallas Theological Seminary. Sua paixão por uma teologia e vida cristocêntricas é acompanhada por humor, música e escrita. Seus livros e artigos abrangem desde estudos crítico-textuais até ficção juvenil. Ele e sua esposa, Stephanie, têm três filhos: Sophie, Lucas e Nathan.
Ver todos os posts -

John Adair (Th.M., Ph.D., Dallas Theological Seminary) é professor assistente de estudos teológicos no Dallas Theological Seminary (DTS). Seus interesses de pesquisa incluem exegese histórica e o papel da cultura na teologia. Antes de ingressar no corpo docente do DTS, Adair passou vários anos como redator no ministério Insight for Living. Ele e sua esposa, Laura, têm três filhos: Nicholas, Harper e Thomas.
Ver todos os posts